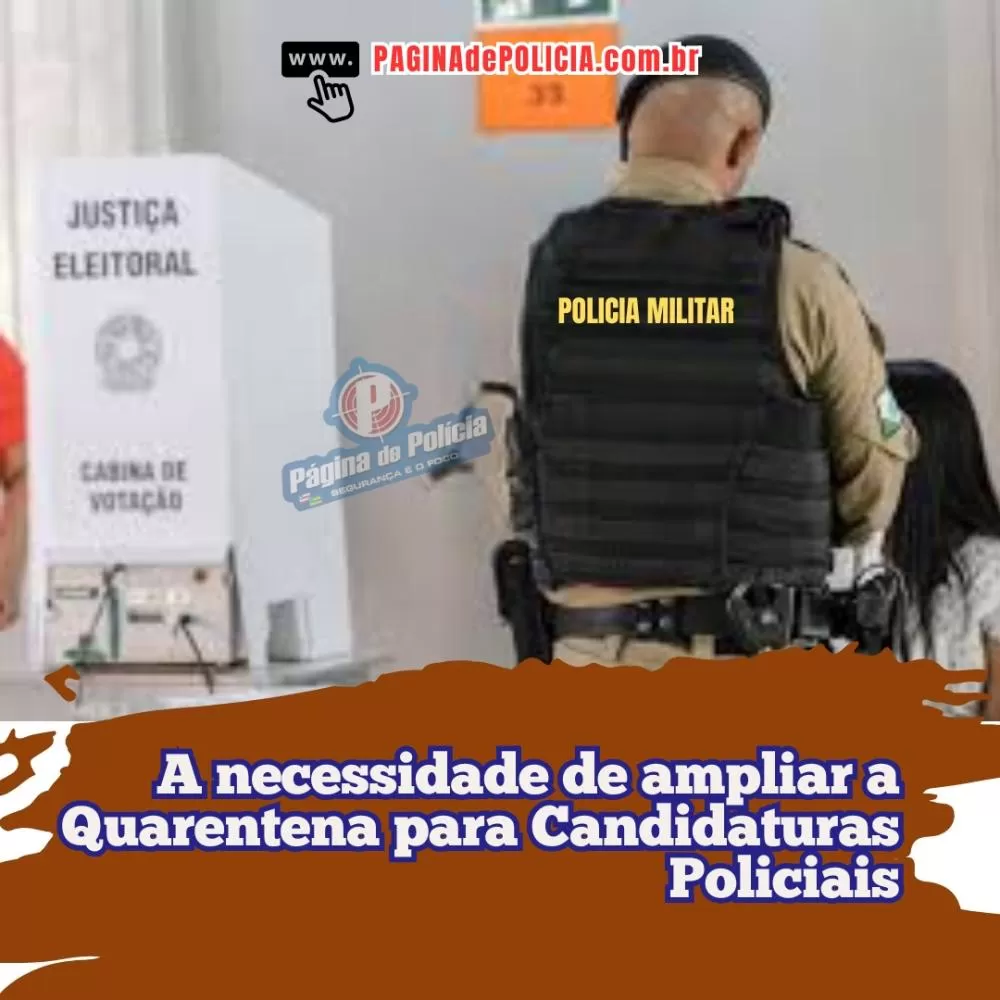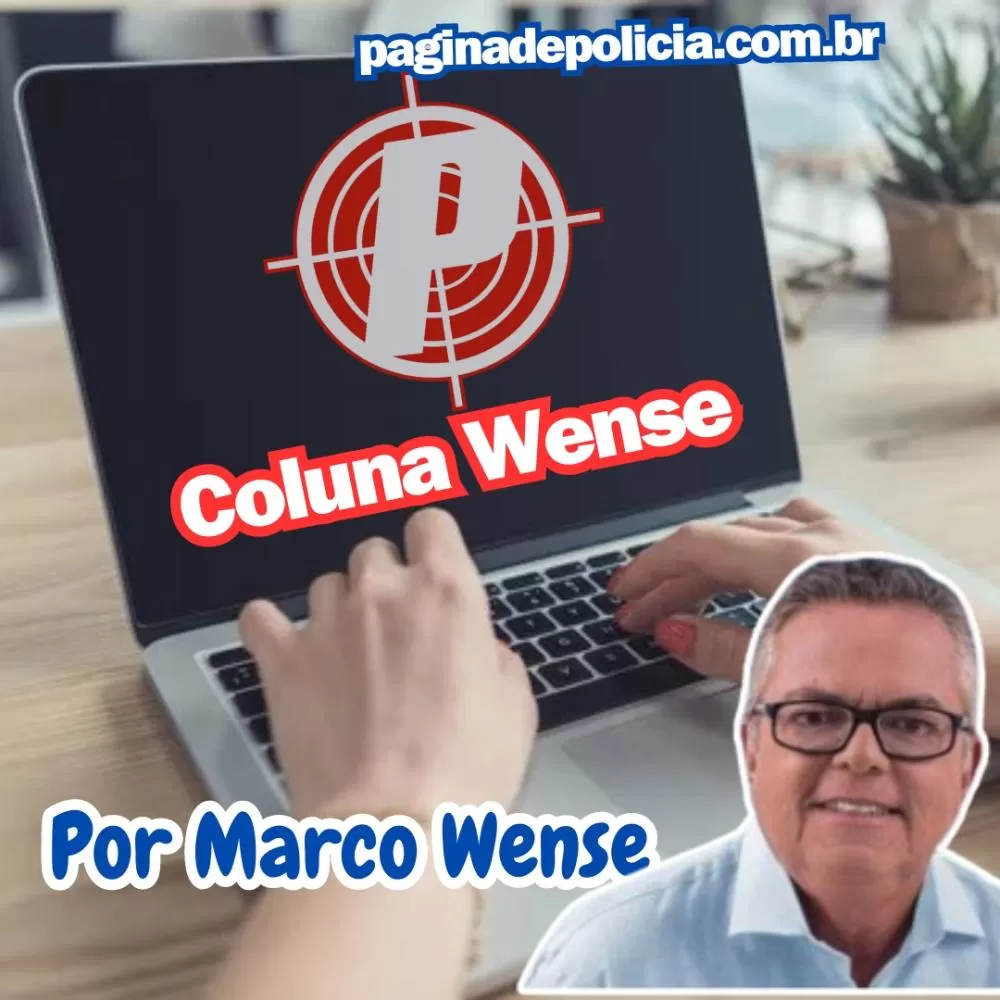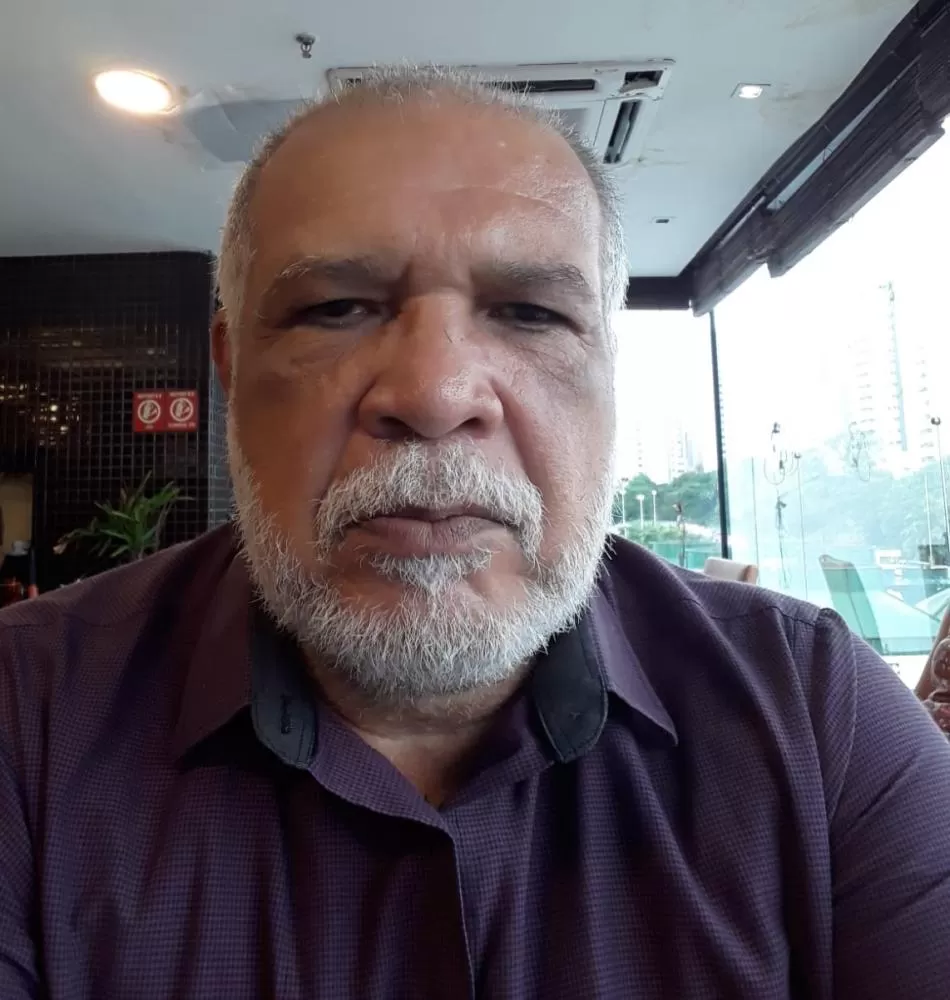

Nos últimos tempos, tornou-se comum assistir a autoridades comemorando operações que deixam dezenas de mortos, como se o número de corpos fosse sinônimo de eficiência. A tragédia virou palco político. A morte, combustível de discurso. A cada coletiva, a dor alheia é convertida em estatística — e o sangue, em narrativa de poder.
Nesse cenário, a política se alimenta da morte. E, junto com ela, morre também a empatia. As vítimas perdem nome, história e contexto. São reduzidas a “suspeitos”, “elementos”, “envolvidos”, termos que anestesiam a consciência coletiva e transformam o horror em rotina.
A chamada “guerra ao crime” serve, há décadas, para disfarçar a ausência de políticas sérias de segurança, educação, moradia e oportunidades. O enfrentamento armado substitui o enfrentamento das causas. O Estado, incapaz de garantir direitos, se apresenta armado para compensar sua ineficiência.
Enquanto isso, as comunidades continuam no fogo cruzado — entre o crime que domina e o poder que oprime. E os profissionais da segurança pública, que deveriam ser amparados e valorizados, acabam expostos em operações improvisadas, usadas mais para mostrar força do que para produzir justiça.
A morte virou uma espécie de moeda política. Cada operação “bem-sucedida” rende manchetes, palanque e curtidas, mas não reduz o tráfico, nem devolve a paz. O medo se perpetua porque interessa: ele justifica o autoritarismo, garante votos e silencia consciências.
A verdadeira segurança não nasce do confronto, mas da justiça. É construída com inteligência, políticas públicas e respeito à vida — de todos os lados.
Quando o Estado escolhe o caminho da violência como método e da morte como resultado aceitável, ele deixa de proteger: passa a ser parte do problema.
Entre a lei e o caos, é preciso lembrar que a vida deve ser o limite e a medida de qualquer ação pública.
Porque não há ordem possível quando a humanidade já foi perdida.
Editorial